Ficou conhecida como um furacão chamado Selma Uamusse. Gravar um álbum de estreia foi uma estrada sinuosa para a artista, ao ponto de Mati se ter tornado célebre pelos atrasos, mas redimiu-se em cada palco que pisou. Ao longo de 2018, a moçambicana desprendeu-se da alçada de Rodrigo Leão e dos Wraygunn, deu dois passos em frente e tomou os holofotes: “Desta água beberemos sempre”, escrevíamos à saída da sua apresentação no Lux Frágil, sala que electrificou em Março do ano seguinte. Dias depois, a moçambicana via o seu país natal ser varrido por um ciclone.
Selma nunca imaginou o que 2019 lhe traria. Quando Mati estava no prelo, a cantora preocupava-se apenas com coleccionar os títulos possíveis para um segundo disco. O significado estava decidido e escrito nas estrelas: “Apenas não sabia se seria em português, inglês, latim”, diz ao Rimas e Batidas, agora que Liwoningo já é um satélite lançado em órbita. A palavra caiu-lhe no colo, logo que descobriu o nome da filha de Cheny Wa Gune (músico que participa no single “No Guns”). É a tradução de “luz” para a língua chope, de uma cultura moçambicana a que a cantora presta contínua homenagem. Tem algo de musical, também: preenche o palato e invade todo o trato vocal, das cordas ao céu da boca.
Apesar do número de sílabas ter oferecido alguma resistência – parecia-lhe vagaroso e pouco evidente, em contraponto ao mais imediato Mati –, Liwoningo perseverou. Para arrancar a campanha promocional, Selma convidou os seus seguidores na rede social Instagram a gravarem vídeos em que pronunciavam (e saboreavam) o título. “Comecei a achar que fazia muito sentido. No início desta carreira a solo, fui teimosa quanto a utilizar as línguas de Moçambique” – neste disco, canta o Sul nos idiomas chope e changana, e o Norte na língua macua – para além de querer “dar a conhecer novas fonéticas e sonoridades”.
Em 2018, o Ípsilon entendia Mati como a reinvenção da alma desse país que a viu nascer: um lugar onde a tradição é promíscua, onde a mbira abraça o sintetizador, sem cordão sanitário entre a timbila e os sopros. Liwoningo assume-se como trabalho de continuidade, sem medo dos desvios que agitam a fórmula e estabilizam um novo trilho. Selma chama Guilherme Kastrup – produtor de Elza Soares nos discos A Mulher do Fim do Mundo (2015) e Deus É Mulher (2018) – para pintar uma paisagem sonora da mesma estirpe. É como se musicassem uma onda de calor, com as alegrias que merecem xiculunguelas (os ululares da língua que se ouvem no final de “Song of Africa”) e os pesares que fustigam um país – matéria com que a cantora se familiarizou, contra todas as suas esperanças, ao regressar a um Moçambique pós-Idai.

[Mão dada, mão à obra]
Demolindo com o vento e inundando com as ondas, a natureza tomou Moçambique nas suas mãos. Foi em Março de 2019 que o ciclone tropical Idai fez mais de 600 mortos no centro do país, sobretudo na cidade da Beira. No mês seguinte, o ciclone Kenneth – o mais intenso de sempre – arrastou também a região norte para um cenário dantesco de cheias. Uma emergência a que 2020 ainda não conseguiu cortar as pernas: continua o rastilho de sobreviventes deslocados, escolas sem tecto e zonas a necessitar de reconstrução. “O balanço não é positivo”, constatou Selma no primeiro aniversário de Mão Dada a Moçambique, concerto de beneficência que coordenou – sem esperar que fosse unir um país inteiro.
A cantora não é estranha à solidariedade cantada: produziu, em 2015, um tributo aos presos políticos de Angola e, no ano seguinte, um espectáculo pelos milhares de sírios prostrados pela batalha de Alepo. Mas Mão Dada a Moçambique foi diferente. “Não convidei os meus colegas para participarem, convidei os meus amigos”, frisa, a propósito de Ana Moura, D’Alva, Moullinex ou Sara Tavares e outros nomes no elenco – até aqui nada de novo. Contudo, após pedir o auxílio da estação Antena 3 para promover a iniciativa, a RTP estendeu-lhe um megafone. “Disseram-me: ‘faz aquilo que tu quiseres e damos-te um dia de emissão’”. Durante uma maratona televisiva, em prelúdio ao concerto no Teatro Capitólio, uma linha telefónica gerou, em conjunção com as receitas de bilheteira, mais de 500 mil euros (repartidos por oito associações).
O dia foi um turbilhão irreal. A noite fê-la processar tudo de um só gole, em directo para Portugal. Ao lado de Catarina Furtado e do Presidente da República, o seu olhar tremia sob o holofote, e a realidade bizarra anunciava-se numa luz de fé. A interpretação cortante de “Hope”, faixa que encerra Mati numa encruzilhada agridoce, pôs um ponto final à noite – não ao cataclismo de Moçambique. “Toda a gente queria fazer parte daquele momento, porque era impossível ficar indiferente às imagens que estávamos a receber. Entender que há esperança no ser humano e que ficamos efectivamente emocionados com aquilo que se está a passar do outro lado, que não é nosso, tocou o meu coração”. Quando Selma diz “nosso”, sobre um Portugal empático, esse plural não coincide com a sua primeira pessoa: natural de Maputo, apesar de radicada em Lisboa desde os 6 anos de idade; portadora de uma bagagem inexorável, mesmo que só a tenha estudado em adulta.
As imagens da catástrofe foram agentes na cooperação internacional, é inegável – tanto quanto o seu rápido despejo dos telejornais. Quer se admita ou não, a caridade ocidental só é sustentável num regime de higienização periódica: há um prazo de validade para o mediatismo de uma tragédia como Idai, para dar a vez a outros. Enquanto Portugal fechava as cortinas para dormir, Selma embarcava numa viagem até Cabo Delgado, província moçambicana que o ciclone Kenneth devastou (hoje tomada por um conflito armado que já deslocou mais de 250 mil cidadãos). Com a missão de verificar o trabalho em curso, levado a cabo pelas oito associações beneficiárias dos donativos, a artista ganhou outro papel. Das lições de sobrevivência que recebeu tornou-se um livro que, hoje lido, ainda fere. “O testemunho de uma senhora com mais de 80 anos que, com o marido, sobreviveu durante seis dias em cima de uma árvore, sem comer, a sobreviver aos ataques de uma cobra; um homem que viu a mulher e o filho a caírem de um ramo de árvore e a afogarem-se à sua frente… Contam-te isto como lições de resiliência e fé. Quando as ouves, ficas desarmado.”
Esse foi um dos exames máximos à sua empatia. “In loco, sentes que não é de direito chorares uma dor que não é tua. É duro, violento, mas não é a tua dor: queres calçar aqueles sapatos, mas não está ao teu alcance, e percebes que há coisas que nunca vais sentir. Mas podes ser a voz daquelas pessoas que nunca a terão, porque nunca ninguém lhes dará uma”. Há um paralelismo inevitável com os movimentos anti-fascismo e Black Lives Matter, aguerridos na sequência do recente assassinato de Bruno Candé. Para Selma, essa luta não é novidade (“há muitos anos que tenho o telefone do José Falcão do SOS Racismo”), é uma condição de vida. “Para pessoas que não se identificam como racistas”, todavia, “é difícil ouvir que Portugal é racista, e complicado explicar que vai muito além do nosso comportamento individual. Estamos a falar de algo intrincado e quase normalizado na sociedade. A forma de não falharmos connosco mesmos é pensar: ’se calhar, nunca vou conseguir perceber de uma forma verdadeira o que é estar do outro lado, mas se também me incomoda, eu posso ser uma voz activa'”. É o que será em Liwoningo.
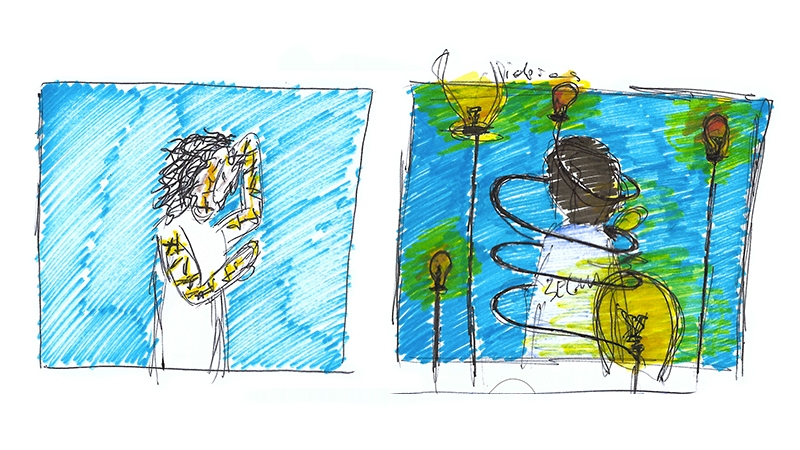
[O segundo capítulo de Selma]
Fios ardentes rasgam a pele de Selma. Ela protege o rosto com os braços, como se não percebesse que o fervor vem de dentro, à temperatura do magma – mas não é um prenúncio de um álbum colérico. “Ouvi-o de antemão e sabia que queria um resultado final intenso”, diz Luís S. Tavares, convidado a ilustrar Liwoningo [ver esboço das imagens promocionais de Liwoningo acima]. O designer e fotógrafo optou por uma concretização visceral dessa luz que lhe dá título. “Queria que o olhar fosse atraído pela fotografia, que ela suscitasse curiosidade. A música da Selma tem uma garra particular”. Essa garra não é uma resposta à mágoa, nem o instinto de uma mulher acirrada pelo triste destino da sua terra. É, antes, o que sempre sentiu: uma urgência de concertar esforços e diálogos, sem estarem ancorados a um movimento em particular (“No Guns”, por exemplo, foi escrita muito antes do recrudescimento da luta Black Lives Matter).
“Seja a falta de esperança, o racismo, a fome, a crise climática ou a falta de fé, são tudo problemas que se estendem no tempo”, pontifica Selma. “Quando comecei a pensar no conceito do álbum, foi sempre com esta perspectiva de ‘falar menos, fazer mais’, que passa por deixarmos que essa luz nos influencie nas nossas mais pequenas atitudes. Que possamos tocar outras pessoas. Podes ter o buraco mais negro, mas se tiveres um feixe de luz, ele vai entrar e as pessoas vão ver, mesmo que não compreendam”. Houve alguém que compreendeu este fenómeno desde o início: Guilherme Kastrup, produtor do Rio de Janeiro, que Selma conheceu através do seu trabalho em A Mulher do Fim do Mundo (2015) e Deus É Mulher (2018), discos que reviveram Elza Soares, a lenda do samba. Em comum, entre elas, estava Luís Viegas, director da Ao Sul do Mundo, que as agencia no mercado europeu. “Primeiro, ele me levou para ver um show da Selma, descompromissadamente. Depois, falou que gostaria de fazer uma aproximação nossa, e criou um grupo no Whatsapp que baptizou de Abençoado Encontro”, conta Kastrup por email. “Na época, eu estranhei um pouco, achei talvez um exagero para um primeiro contacto. Mas o tempo mostrou que ele estava correctíssimo.”
Os trabalhos começaram em Julho de 2018, três meses antes de Mati chegar sequer às lojas. Jori Collignon, produtor desse disco, passou a jaleca a Kastrup, mas permaneceu na equipa: o esqueleto de Liwoningo foi gravado ao vivo dentro da sua casa de Palmela, no Estúdio Le Garage. Com os músicos moçambicanos Chenny Wa Gune e Milton Gulli, Selma e a sua banda mergulharam numa residência artística. “O sol, o vento e as ideias entrando pelas janelas” é como Kastrup descreve o ambiente dessas sessões. Um registo que “ventilou o potencial artístico do álbum”, semelhante ao que Selma encontrou ao visitar o estúdio do produtor carioca – Toca do Tatu – em São Paulo. A artista aproveitou uma digressão pelo Brasil com Conan Osiris e Lavoisier, em Novembro de 2018, para começar a gravar vozes. Um ano depois, o espaço voltou a ser a incubadora de Liwoningo, recebendo um quarteto de cordas, os músicos brasileiros Swami Jr e Rodrigo Campos, ou a banda Bixiga 70 – mas não só.
“Houve coisas muito espontâneas, que é um bocado a cena brasileira. O Guilherme é um músico muito conhecido, mas que tem a porta aberta, e a casa ao lado do estúdio. As pessoas sabem que ele está a gravar e passam por lá, sentam-se e ficam a ouvir”. A cantora não nega o constrangimento, até porque raramente um artista entra na cabine com público a assistir, mas daí derivou outra força. “Ficas entre os nervos e o entusiasmo de ver a malta ouvir a tua música”. Liwoningo também titubeia, diz Selma, entre dois extremos: a solenidade que deve ao seu passado no gospel e o seu lado mais sanguinário, “ousado”. Os dois hemisférios tinham tido a prova dos nove no caleidoscópio de Mati, que tão rapidamente entregava uma marrabenta como um hino de devoção.
“Era uma Selma cheia de sonhos, e continuo a ter muitos, mas incerta daquilo que poderia mostrar. Não queria largar o gospel, não queria largar o rock”. Este disco, com repertório escolhido a dedo pela cantora, mostra que o seu mundo se faz de tudo isso, numa síntese exímia. “Queria mais organicidade e coesão”: não apenas instrumental, tímbrica também, até às últimas consequências.

[Dores de crescimento e terapia de luz]
Nem tudo corre como mel, Selma sabe-o bem: “O trabalho de encontrar a minha voz em estúdio é sempre muito doloroso”. O êxito de Mati – álbum que a fez voar até Nova Iorque, para actuar no SummerStage, ou fazer a primeira parte de Erykah Badu no Brasil – quase faz esquecer os sucessivos atrasos na sua edição, ora redesenhado, ora entregue a um novo produtor. A delonga teve a vantagem de permitir testar esse material ao vivo, algo que não aconteceu desta vez: em oito faixas de Liwoningo, apenas duas não são tiros no escuro. “O trabalho de estúdio não me é muito prazeroso. Eu choro em estúdio, porque me ouço a cantar e sinto que não consigo reproduzir o que sou ao vivo. Há sempre uma grande dificuldade em admitir que sou melhor em palco. O estúdio exige outra sensibilidade e sinto-me sempre aquém do que deveria ser.”
Selma conta uma história que volta a despertar esse sentimento. “Por vezes, o Guilherme pedia-me para cantar algo e eu criava [algumas melodias] no momento. Ele reparava: ‘você é maravilhosa, canta tão bem, tão afinada. Agora, cante com a sua voz'”. Na altura, desfez-se num pranto; agora, solta uma gargalhada, já secas as lágrimas desses momentos de dúvida. Sabe que, em palco, nunca tentaria socorrer-se de “referências e artifícios”, nem tentar balançar os intervalos do jazz com a precisão do gospel. Kastrup entendeu o que estava a acontecer. “Se ela quiser,” comenta o produtor, “pode cantar como a Nina Simone ou Sarah Vaughan, mudar o seu registro de voz e sotaque a cada canção. Mas acredito que um dos papéis importantes de um produtor musical é, com o olhar externo, ajudar ao artista a enxergar e colocar p’ra fora o que é mais pessoal e profundo, o que tem mais personalidade.”
“A técnica é inimiga da nossa verdade, no que diz respeito à voz”, concorda Selma. A lição ficou-lhe na ponta da língua: para Liwoningo demonstrar toda a sua amplitude ao vivo, só lhe falta a acústica e o calor corporal. Essa voz que ouvimos na quase fadística “Xikwengo” só poderia ser sua: conduz a maior sombra do álbum, lançada por Swami Jr. na guitarra de sete cordas e Rodrigo Campos no cavaquinho. Ajuda a que uma única canção concentre a angústia e a feliz violência da catarse, como “Hoyo Hoyo”, em que o ritmo propulsor aniquila uma velha promessa. “Num gesto de humildade, voltei atrás nas palavras do passado: que nunca faria um disco com guitarra eléctrica”, confessa. Esse instrumento está no ADN deste longa-duração, nas chamadas urgentes de “Maputo” ou “No Guns”, assim como nas preces de “Mama” e “Song of Africa”. Tudo se fez em consórcio com Augusto Macedo no baixo, no teclado e na mbira, ou com Nataniel Mato na percussão (incluindo a kalimba, instrumento tradicional moçambicano).
Afinal, Selma foi peremptória quando estendeu o convite a Kastrup. “‘Quero um álbum de reencontro com minhas origens moçambicanas!’” é o que o produtor relata ter ouvido, antes de ter imediatamente partido na descoberta dessa cultura. “Pedi então ajuda a uma grande amiga, Lenna Bahule, que me apresentou uma lista de artistas para que eu iniciasse esse mergulho”. Deu-se aí uma das muitas “coincidências mágicas da música”: um dos nomes na lista era Chenny Wa Gune, que acabava de chegar a Lisboa para uma digressão. “Mesmo não estando previsto, juntou-se a nós na criação e gravação das bases do disco. Ele, junto com Milton Gulli, foi uma presença fundamental para trazer essa raiz com profundidade ao som do disco”, onde cabem laivos do samba-rock cinético de Deus É Mulher ou toques do afrobeat de Fela Kuti. “Esse encontro com a Selma foi e é muito abençoado”, resume Kastrup. “Ganhei grandes amizades que, tenho certeza, me acompanharão pela vida.”
O coração de Liwoningo vive no último par de temas, onde só resta agradecer. “Khanimambo Liwoningo” (obrigado, luz) marca a primeira vez que canta em português na sua obra a solo. “Às vezes, perguntam-me porque não o faço mais vezes”, desabafa Selma. “Não tenho reservas em fazê-lo. Mas poder contribuir para a expansão do património cultural moçambicano faz-se, para além da vertente dos sons, nas línguas”. Isso configura um desafio que pode parecer indesejado à primeira e, depois, se converte numa curiosidade expansiva. “As pessoas às vezes gostam de ter a vida facilitada, querem perceber tudo. Ao mesmo tempo, aquilo de que mais gostam é essa magia, fantasia, ‘o que quererá dizer?’” Gosto dessa abertura das pessoas poderem sentir, experimentar. É o poder da música. Como dizia o Fela Kuti, ‘music is the weapon of the future’ [a música é a arma do futuro]”.
Em “Mbilo”, percebemos que futuro é esse. “A minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio”: um versículo transposto para o universo Kastrup-Uamusse. Composto pela sua amiga Isabella Novenna, o tema “fala sobre dançarmos num jardim que está cheio destas delícias e maravilhas que vêm do nosso coração”. É a produção mais experimental à vista, uma teia vocal – cortesia de Lenna Bahule – a revelar “a música mais moçambicana” num álbum que é, com certeza, a maior homenagem que poderia fazer ao seu primeiro país.
Talvez não o possamos encontrar hoje como ele é cantado aqui. Mas, em Liwoningo, “uma Selma com menos medo de dizer quem é” construiu um refúgio para todas as palavras que ensaiam a esperança. Um jardim com todos os sons que ainda hão-de iluminar Moçambique.



