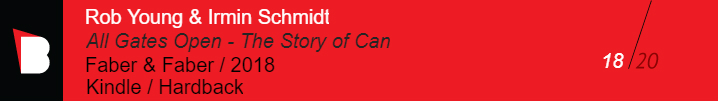
[TEXTO] Rui Miguel Abreu
Rob Young, autor da biografia dos Can que a Faber & Faber agora edita, é uma das mais sólidas “vozes” da incontornável revista Wire e o responsável pelo tomo definitivo sobre o devir folk britânico que é o incrível livro Electric Eden lançado em 2011. Pode-se, claramente, falar de homem certo para a missão complexa de traçar o percurso de uma das mais fascinantes bandas a surgir do chamado krautrock, movimento erguido pela geração pós-guerra que na Alemanha se viu encarregue de inventar uma nova linguagem que lhes permitisse superar o pesado trauma imposto pelo então recente passado nazi.
A tarefa de ilustrar com palavras a história de uma banda cujo legado ressoa ainda de forma clara no presente musical — com dívidas claras que se estendem do hip hop mais experimental (“Vitamin C” foi sempre um favorito de qualquer b-boy que se preze e daí o seu uso intenso na série Netflix The Get Down) aos mais esotéricos momentos da pop electrónica, com Third dos Portishead a ser um claro exemplo disso mesmo — não se afigurava fácil, mas Young trabalhou material de excelente qualidade, recolhido em entrevistas únicas com os membros fundadores do grupo de Colónia, os vocalistas que passaram pela banda, amigos do circulo mais íntimo e agentes da indústria em que o grupo funcionou.
Há uma segunda parte em All Gates Open, de título Can Kiosk, a cargo do membro fundador dos Can Irmin Schmidt, que se descreve como uma colagem, método aliás bastante usado pelos Can como recurso de criação. Nesta parte surge uma história oral da banda a cargo de Max Dax, antigo editor da revista multimédia Electronic Beats, e de Robert Defcon: essa montagem parte de uma série de entrevistas conduzidas por Schmidt com músicos que sempre reclamaram a influência dos Can como uma marca distintiva das suas próprias identidades, casos de Bobby Gillespie dos Primal Scream, Geoff Barrow dos Portishead e Beak >, Mark E. Smith dos Fall ou Daniel Miller, patrão da Mute, editora aliás responsável por curar actualmente o catálogo dos Can. Há igualmente importantes depoimentos de cineastas como Wim Wenders — que filmou muitas das bandas da geração em que os Can se inseriam — ou John Malkovich. Nesta secção do livro há ainda preciosos documentos extraídos dos diários de Irmin Schmidt. Tudo junto, este material funciona como um revelador caleidoscópio de factos, memórias, ideias, impressões e teorias que ajudam a posicionar o legado dos Can no mais vasto contexto da mais desafiante música produzida na segunda metade do século XX.
Num texto para a plataforma Louder Than War (criada por John Robb), Simon Tucker argumenta certeiramente que os Can trilharam o singular e estreito caminho que separava a música mais avançada (tanto Irmin Schmidt como o recentemente desaparecido Holger Czukay foram pupilos de Karlheinz Stockhausen) daquela mais electricamente “primitiva” que se estendia improvavelmente entre a sinuosidade sincopada das produções de James Brown e o descontrolo ácido do ruído profetizado pelos Velvet Underground. Como Picasso que encontrou a sua linguagem algures entre o estudo dos mestres e o fascínio misterioso exercido pelas máscaras africanas, também os Can inventaram um novo mundo procurando ligações entre universos opostos. E Rob Young ilustra essa ideia não apenas através da história que reconta, mas igualmente com o seu apurado estilo de escrita, que tanto pode soar densa e académica, como muito mais “jornalística” e aproximada da mais linear linguagem tradicional da biografia rock.
Com “pinceladas” elegantes e claras, Young pinta um retrato de uma banda que se organizava também como uma utopia, sem um líder clássico (a democracia criativa como forma de lidar com o pesado trauma que o culto do líder tinha gerado na Alemanha Nazi…?), em que cada membro assumia uma posição de relevo no conjunto: o teclista Irmin Schmidt, o guitarrista Michael Karoli (desaparecido em 2001) e a extraordinária secção rítmica formada por Holger Czukay no baixo e pelo mítico Jaki Liebezeit (desaparecido também em 2017, 8 meses antes de Czukay…) na bateria apresentavam-se em estúdio como protagonistas de igual dimensão na construção da arquitectura sónica que rendeu os clássicos trabalhos dos Can.

A estas figuras adicionaram-se ainda, em duas fases distintas, os préstimos dos vocalistas Malcolm Mooney e Damo Suzuki, dois excêntricos visionários, um americano e outro japonês, que, respectivamente, nos períodos 1968-70 e 1970-73 ajudaram a tornar a música dos Can ainda mais distinta e logo ainda mais resistente à passagem do tempo. Há passagens no livro bem ilustrativas da liberdade que cada um dos vocalistas trouxe para dentro da banda, com os seus improvisos a abrirem novos caminhos para a sonoridade colectiva: “Father Cannot Yell”, primeira faixa do primeiro álbum do grupo, Monster Movie, lançado em 1969, foi o resultado de um embate sem rede, do primeiro encontro em estúdio, do primeiro take, sem qualquer tipo de preparação prévia. Com Suzuki a bordo, e uma distinta abordagem ao microfone, não menos imaginativa, diga-se, os Can assinaram um trio de registos absolutamente brilhantes e decisivos para a imposição da sua particular aura no seio do complexo panorama rock europeu dos anos 70: Tago Mago, Ege Bamyasi e Future Days formam um poderoso e visionário tríptico. Rob Young revela que a banda encarou Tago Mago, trabalho cujo título se refere à ilha Tagomago situada perto de Ibiza, como o seu real segundo álbum depois da edição de Soundtracks com material disperso criado para filmes: “Tago Mago foi planeado como um álbum desde o início”, escreve o autor. “Desde a cabeça gigante pintada na capa de abrir (que, de certa maneira, parece o perfil da própria ilha) até ao seu fôlego espalhado por quatro lados de um duplo LP, incluindo duas faixas monumentais que preenchem a totalidade de dois lados, Tago Mago soava grande. Tomados como um todo”, prossegue ainda, “os sete temas eram confiantes, mas exploratórios e a espaços soavam perigosamente perto do colapso”.
Young mistura de forma inteligente o relato factual dos episódios com uma aguçada capacidade de análise que nunca resulta árida e, muito pelo contrário, mantém o leitor interessado na página seguinte, com as 356 páginas da primeira parte a revelarem-se, afinal de contas, demasiado curtas quando o final da história se aproxima. Nesta edição “hardback”, no entanto, o fim significa apenas a chegada ao Can Kiosk de Irmin Schmidt, “livro” logo inaugurado com algumas páginas coloridas repletas de raro material fotográfico, facto que aliás marca mais três momentos de All Gates Open, reforçando a vocação documental que esta obra também carrega. Um dos aspectos fundamentais deste livro é o foco total nos Can: o krautrock como todo praticamente não é explorado e outras bandas são apenas mencionadas se importantes para o contexto de um momento que se possa estar a relatar. Rob Young sabe bem que há outros livros que já tomaram em ombros essa árdua tarefa, caso notório (e notável…) de Future Days assinado pelo mesmo David Stubbs que acaba de editar o igualmente fascinante Future Sounds: The Story of Electronic Music From Stockhausen to Skrillex (que em breve merecerá também atenção por aqui). Ainda assim, o autor nunca descura a ligação das radicais visões musicais do grupo que é objecto do seu livro às mais profundas convulsões políticas, sociais e até filosóficas e morais que então transformavam a identidade europeia. A música dos Can foi, a um tempo, reflexo e motor dessas transformações, um escancarar de portas que inauguraram um futuro de infinitas possibilidades.
Livro fundamental, pois claro.