Há uma nova edição do Cadernos da Pandemia e Capicua está entre a lista de contribuidores. Podem ler a publicação completa no formato digital aqui.
Esta é uma iniciativa do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que, ao quinto volume, tem como subtítulo Em Suspenso. Reflexões sobre o trabalho artístico, cultural e criativo na era do COVID-19. Nesta edição são vários os convidados que dão o seu parecer e partilham as suas experiências sobre estes últimos sete meses, período em que o circuito dos espectáculos no nosso país foi praticamente suspenso, pondo em causa a subsistência dos profissionais ligados às artes performativas, como a música ou o teatro.
Na nota introdutória de Cadernos da Pandemia Vol.5, surgem apontados uma série de factos que estão a dificultar ainda mais esta espécie de blackout – “A precariedade intrínseca aos profissionais das artes e instituições culturais, a falta de visão estratégica para a cultura, a inexistência de políticas culturais estruturantes, o (incompreensível) desconhecimento, por parte das entidades competentes, sobre as condições em que se realiza a atividade laboral na área da cultura,” entre outros.
Em seguida partilhamos o ensaio assinado por Capicua para este volume de Cadernos da Pandemia, “um texto testemunhal, onde discorre sobre o impacto que a pandemia teve na sua prática artística e na desocultação das situações de precariedade no sector da música”.
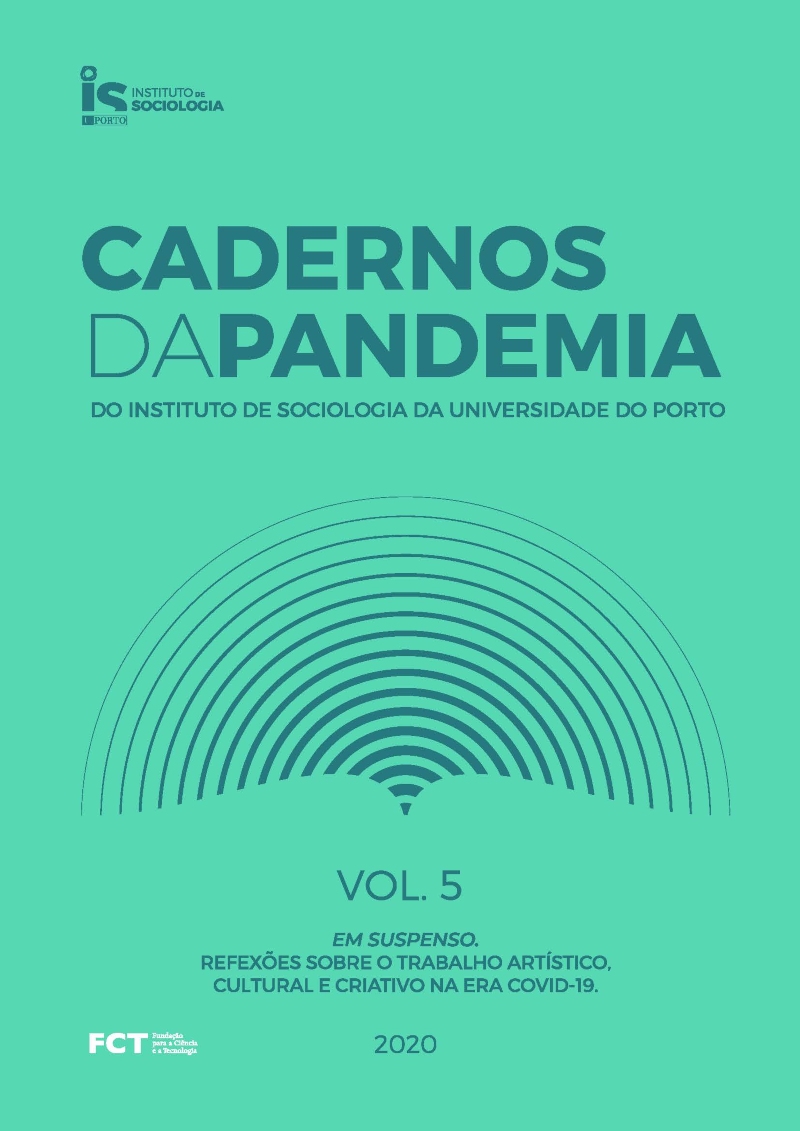
E aos quarenta e tal dias de quarentena fui-me abaixo. Não foi sequer pelos dias de clausura pesarem no espírito. Nem o facto de a quarentena ter virado cinquentena. Muito menos a falta de vida social. Foi mesmo a perspectiva de que não será fácil o regresso à normalidade. Porque a normalidade agora é inviável e será até haver vacina. E, claro, sem uma vacina para nos devolver as multidões, os músicos não terão trabalho.
A perspectiva de cancelamento da agenda deu-se num momento ingrato para todos e especialmente para mim. Aconteceu em pleno recomeço da actividade anual dos músicos (porque Janeiro e Fevereiro são sempre meses de poucos concertos) e em pleno início de digressão do novo disco, que consegui terminar à custa de muito sangue, suor e lágrimas (durante uma gravidez e um pós-parto).
Apesar do balde de água fria, toda a classe percebeu a importância de evitarmos aglomerações de pessoas e, mesmo antes das recomendações oficiais, prontamente foram cancelados todos os concertos. Acho que tivemos esperança de que uma quarentena atempada nos roubasse o início da primavera, mas garantisse o verão (altura de maior trabalho, em que amealhamos o sustento dos meses de inverno, como as formigas).
Ora, em plena quarentena, já com a primavera comprometida, percebemos que não teríamos trabalho no verão e que, só a muito custo, poderiam existir eventos no resto do ano, sempre sem certezas. É que a perspetiva de novo surto no inverno, compromete muito o vislumbre de outono e temo que só no próximo ano a coisa possa voltar a estar de feição para quem, como eu, faz a vida no palco.
A frase que se repete por aí é verdade: os trabalhadores da cultura foram os primeiros a ficar sem trabalho por causa da pandemia e serão dos últimos a regressar ao activo na plenitude. São também dos mais precários. Toda uma indústria de trabalhadores independentes, e quase sempre sazonais, muito empenhados e qualificados, mas esquecidos nos bastidores.
Para terem uma ideia, para que eu possa subir ao palco, há uma equipa de catorze pessoas que se mobiliza (entre músicos e técnicos). Para além das pessoas que trabalham na agência que marca os concertos, dos trabalhadores da empresa que monta o palco e instala o sistema de som, e do pessoal da produção, da programação, da promoção… Um exército de trabalhadores que fazem de tudo para que, à hora marcada, haja espectáculo, com todas as condições necessárias para que a magia aconteça e o público saia satisfeito.
Todas essas pessoas ficaram sem trabalho e todas essas pessoas têm famílias, pagam casa, vão ao supermercado, recebem contas da luz, existem enquanto cidadãos de bem, que pagam (muitos) impostos e segurança social todos os meses (exageradamente), na sua maioria na qualidade de trabalhadores a recibos verdes, sem direito a qualquer protecção em horas de escassez.
Bem sei que o Estado deu umas ajudas, simbólicas, através da Segurança Social, mas que além de pequenas não cobriram a imensidão de trabalhadores do sector. Que instituições como a Gulbenkian e a Câmara de Lisboa, prometeram apoios, mas só para alguns. Que a GDA e a SPA tentaram apoiar artistas e autores, mas que muitas equipas ficaram de fora. E que os pequenos impactos desses parcos apoios, para tanto tempo sem trabalho, resultaram em situações dramáticas para muitas famílias.
É preciso pensar, quanta dessa massa crítica sobrará no fim, quantos desses trabalhadores qualificados e com anos de experiência não perderemos para outras profissões durante estes longos meses e quantos artistas desistirão. É caso para pensar, que preço pagará o país pelas perdas incalculáveis (de talento, saber e profissionalismo) no sector da cultura e quantos anos demoraremos a recuperar.
É que além da incapacidade financeira e política do Ministério da Cultura, que muita vergonha alheia nos fez passar com avanços e recuos, drinks de fim de tarde e quase-programas-de-TV em esquema de pirâmide, a ajuda financeira prestada, num primeiro momento, foi a concurso e por proposta de novas criações. Foi quase como se, perante um mendigo a pedir esmola na rua, exigíssemos um truque ou pequena performance em troca. Foi quase como se, mesmo na hora do desespero, só fossemos dignos de apoio provando a nossa inventividade e capacidade criativa…
E o sector bem se esforçou. Depressa surgiram as tentativas de manutenção de relevância online, através de espectáculos caseiros nas redes sociais. Que, num primeiro momento, foram estimulados pela boa intenção de incentivar as pessoas a permanecerem em casa e fazer companhia a quem estava confinado, mas depressa se vulgarizaram, contribuindo ainda mais para banalizar o próprio trabalho artístico, sobretudo na música.
As pessoas já não estão habituadas a pagar para ouvir discos, desde o advento da pirataria online. Os músicos têm o seu rendimento reduzido aos espectáculos ao vivo e aos direitos de autor. E, de repente, em dois meses de quarentena, os concertos passam a ser oferecidos em catadupa, gratuitamente, no conforto do lar.
Claro que houve uma minoria de artistas famosos que o fez em parceria com marcas patrocinadoras, e também uma minoria de músicos diligentes que o fez em esquema de crowd funding, com o público a contribuir com donativos ou mesmo comprando bilhetes eletrónicos, mas deve ser dito que a maioria contribuiu apenas para a banalização e para o desgaste do formato e do consumo de música ao vivo.
Houve também quem buscasse outras alternativas, assim que começou o desconfinamento e passou a ser autorizada a realização de espectáculos com lotação limitada e cumprindo as normas de segurança impostas pela DGS. Os concertos em drive-in, em que a experiência imersiva dos habituais concertos é substituída pelo confinamento do carro e a audição da música através do auto-rádio. Ou mesmo os concertos em camiões, em modo palco itinerante, em trânsito pelas ruas das localidades para evitar os ajuntamentos, mas impedindo obviamente o normal acompanhamento do espectáculo. Sem esquecer, ainda, uma irrisória minoria de espectáculos em sala, sem público, mas com todas as condições técnicas, emitidos pela internet ou pela televisão.
Já os mais conservadores, cingiram-se à possibilidade dos espectáculos com lotação limitada, mas apesar da necessidade de voltar ao trabalho, muito poucos músicos regressaram ao palco, por duas razões essenciais. Primeiro porque a lotação limitada inviabiliza grande parte das produções e muito poucos músicos e promotores se podem dar ao luxo de arriscar perder dinheiro num ano difícil como este. E, segundo, porque os municípios têm mostrado uma grande retração, temendo ser pioneiros no regresso à normalidade, num contexto em que a própria opinião pública parece ver com bons olhos o clima de restrição securitária na programação cultural.
Isto sobretudo após o surto que atacou a Grande Lisboa depois do desconfinamento, expondo a pobreza, a falta de condições de trabalho, a segregação territorial, a concentração habitacional e a saturação dos transportes públicos, nas periferias da capital. O surto, disse-nos mais sobre o (sub) desenvolvimento do país, do que sobre a pandemia, mas (ironicamente) veio reforçar um discurso latente, de que precisamos de medidas musculadas para conter este problema. Em vez de discutirmos as condições de vida destas franjas da população, foram rápidos os dedos apontados à suposta inconsciência dos jovens, com a sua necessidade de lazer.
Parece ser aceitável que se corra risco de vida para trabalhar, na linha de montagem, na obra ou mesmo no autocarro, mas clama-se pelo recolher obrigatório que impedirá o usufruto do tempo livre (lá está) em liberdade. São cada vez mais populares as proibições e adiamentos de espectáculos, mesmo que com lotação limitada, distanciamento social assegurado e muitas vezes ao ar livre, como se fosse pecado querer absorver cultura num momento destes. Ou mesmo como se o vírus apenas atacasse os ociosos. Sem perceber que, quanto mais proibimos o lazer em espaços controlados e cumpridores das orientações da DGS, mais estimulamos as festas e ajuntamentos informais, domésticos ou em lugares com poucas condições de segurança. Sem perceber que, num momento tão delicado da nossa economia, boicotar a cultura, já bastante moribunda, demonizando-a ou reforçando a ideia que é supérflua e evitável, é matar um sector que cria empregos, atrai turistas e mantém a nossa saúde mental.
A turba das redes sociais, o tom dos jornalistas televisivos, as bocas nos cafés, apoiam as proibições, clamam por controlo apertado, insurgem-se contra eventos organizados com todas as condições e apoiam atitudes autoritárias e populistas de autarcas com tiques de tiranete.
Resumindo, temos uma crise pandémica sem data para terminar. Temos um Ministério da Cultura incapaz (política e tecnicamente) e sem orçamento para fazer face aos danos causados no sector. E temos muita luta a fazer, à porta do Ministério do Trabalho e Segurança Social, para exigir que o estatuto do trabalhador da cultura, precário, sazonal e intermitente, seja, como em França, alvo de um tipo de protecção mais digno e adequado às necessidades da classe.
Sei que ainda há quem ache que a Cultura é um sector menor e que a Arte não é bem essencial. Há muito quem acuse os artistas de comiseração e parasitismo. Quem ache que isto é um hobby e não uma profissão. Boçalidade e tecnocracia, normalmente alinhadas com ideologias pouco democráticas e pouco amigas da mundivisão e do espírito crítico, da inspiração e dos corações ao alto. E acrescento que seria muito interessante ver quantos sobreviveriam a uma quarentena de dois meses sem música, filmes ou séries, livros e outras formas de arte.
Ainda assim, sinto que isto de depender financeiramente da música é, de facto, muito estúpido, num tempo em que as perspectivas de rendimento são escassas. Penso muitas vezes que o nosso maior desafio, enquanto coletivo, além da concretização do estatuto de trabalhador intermitente, seria diversificar as nossas fontes de rendimento, por uma questão de justiça (porque há muito quem ganhe com a nossa música, enquanto a oferecemos) e por uma questão de sobrevivência. Amo-a demais para depender dela, como dizia Carlos Paredes, mas sinto que ela me exige todo o tempo e toda a dedicação, amando-a demais para não viver para ela, como dizia o Sam the Kid.
Isto que estamos a viver é, de facto, um divisor de águas. Em pouco tempo reinventámos a etiqueta e o protocolo. Repensámos a mobilidade urbana e a organização do trabalho. A educação, as rotinas e prioridades de consumo. Transformámos os hábitos de socialização e lazer. Substituímos muita coisa que achávamos insubstituível e, no processo, revalorizamos muitas coisas dadas como garantidas. O toque, o abraço, a jantarada enquanto instituição nacional, o êxtase de um concerto ao vivo, a alegria das festas populares que não vamos ter, as idas para o trabalho à janela do autocarro, o cafezinho com o colega, e até a praia como bem de acesso ilimitado.
Ora, perante tanta disrupção, a arte que criarmos a partir de agora terá de ser necessariamente diferente, se quiser estar embebida do espírito da época. Tal como terá de ser diferente a nossa relação com a profissão de artista. Há que rever e reinventar. Adaptar, recomeçar, alinhar o azimute com o depois de amanhã e perceber que, tal como a natureza que se regenera fulgurante com todo este abrandamento, poderemos nós também reflorescer artisticamente e repensar a nossa forma de trabalhar e gerar sustento. Isto se ainda conseguirmos ser artistas (vivos e no activo) no fim.